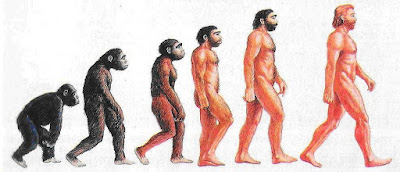Durante a graduação em história acabei deixando de lado o estudo dos aspectos pedagógicos da minha profissão. Desdenhei desses conhecimentos porque, como muitos, não me imaginava lecionando num futuro próximo. Erro crasso, que me atingiu em cheio quando entrei pela primeira vez numa sala de aula. Desarmado dessas ferramentas teóricas tão valiosas, o mundo escolar e suas peculiaridades me atordoou. E assim foi desde então. Ser professor sem conhecer o que já se falou e pensou sobre o processo pedagógico faz com que o ambiente escolar se torne confuso, incompreensível. No final, acabei por desenvolver uma lógica pessoal fundada na experiência, que mesmo quando funciona, me impede de enxergar além. Percebo que, muitas vezes, acabo agindo pelo instinto, sem ter plena consciência do significado de minhas ações.
Esse tipo de situação, obviamente, reduz a qualidade e a eficácia do trabalho do professor, e serve também para que interesses externos penetrem insidiosamente nas aulas, pelas frestas da ignorância... Um exemplo é o currículo: a inclusão de certos temas (e a omissão de outros) pode servir para enaltecer um partido político, uma linha de pensamento, um sistema socio-econômico. Se o professor estiver despreparado, principalmente o de História, acaba servindo de porta-voz para esse proselitismo disfarçado.
A vida me oferece agora uma segunda chance, nas aulas de Didática da professora Lilian no lato senso da PUC. Os textos agora fazem sentido, vem discutir assuntos que são o cerne das minhas preocupações.
Para compreender uma coisa, nada melhor do que analisar seu trajeto ao longo do tempo. É isso que propõe a historiadora Elza Nadai em relação ao ensino de história: acompanhar sua gênese, as formas que assumiu ao longo do tempo, as mudanças e os desafios atuais.
No Brasil, a história surge como disciplina escolar no ano de 1838, quando foi fundado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, primeira instituição dedicada ao ensino secundário no país, que serviu de modelo para outras instituições que foram aparecendo no Brasil. No seu primeiro século de existência as aulas eram ministradas por professores autodidatas, uma vez que não existiam cursos de formação de docentes especializados nessa área. Somente em 1934 seriam fundadas no país instituições formadoras de professores de história. Nesses primeiros cem anos, a história se colocou como ferramenta de legitimação do status quo, da laicização progressiva do Estado e da promoção de um espírito de corpo nacionalista. Era uma disciplina bastante influenciada pelo positivismo, ligada aos Institutos Históricos que emergiam nessa época. Desenvolvia-se uma visão europocêntrica, promotora do liberalismo, onde o estudo da história nacional tinha pouco espaço. A Europa era vista como centro irradiador de um modelo ideal de civilização. Ocultava-se o caráter colonial do Brasil, ocultava-se a violência das relações sociais, esquecia-se do restante da América do Sul e da África. O método de ensino era o da memorização mecânica mediante coerção. O aluno era um depósito onde se emplilhavam os conceitos. O conhecimento era dado como pronto e acabado, sem espaço para discussão ou crítica. O historiador e o professor de história eram vistos como elementos imparciais e neutros, meros coletores-transmissores das verdades históricas presentes nas fontes documentais. A história era vista como uma narrativa lógica, uma progressão cronológica uniforme, com ênfase na continuidade, donde se podiam extrair “leis científicas” que se prestavam a explicações gerais sobre qualquer povo em qualquer tempo. Esse paradigma tinha ainda como característica a construção de mitos e a exaltação dos grandes personagens-heróis, responsáveis isolados pelas glórias do passado, e a colocação da elite e do Estado como os agentes históricos por excelência, omitindo-se o papel do restante da população na construção das trajetórias sociais.
Esse tipo de situação, obviamente, reduz a qualidade e a eficácia do trabalho do professor, e serve também para que interesses externos penetrem insidiosamente nas aulas, pelas frestas da ignorância... Um exemplo é o currículo: a inclusão de certos temas (e a omissão de outros) pode servir para enaltecer um partido político, uma linha de pensamento, um sistema socio-econômico. Se o professor estiver despreparado, principalmente o de História, acaba servindo de porta-voz para esse proselitismo disfarçado.
A vida me oferece agora uma segunda chance, nas aulas de Didática da professora Lilian no lato senso da PUC. Os textos agora fazem sentido, vem discutir assuntos que são o cerne das minhas preocupações.
Para compreender uma coisa, nada melhor do que analisar seu trajeto ao longo do tempo. É isso que propõe a historiadora Elza Nadai em relação ao ensino de história: acompanhar sua gênese, as formas que assumiu ao longo do tempo, as mudanças e os desafios atuais.
No Brasil, a história surge como disciplina escolar no ano de 1838, quando foi fundado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, primeira instituição dedicada ao ensino secundário no país, que serviu de modelo para outras instituições que foram aparecendo no Brasil. No seu primeiro século de existência as aulas eram ministradas por professores autodidatas, uma vez que não existiam cursos de formação de docentes especializados nessa área. Somente em 1934 seriam fundadas no país instituições formadoras de professores de história. Nesses primeiros cem anos, a história se colocou como ferramenta de legitimação do status quo, da laicização progressiva do Estado e da promoção de um espírito de corpo nacionalista. Era uma disciplina bastante influenciada pelo positivismo, ligada aos Institutos Históricos que emergiam nessa época. Desenvolvia-se uma visão europocêntrica, promotora do liberalismo, onde o estudo da história nacional tinha pouco espaço. A Europa era vista como centro irradiador de um modelo ideal de civilização. Ocultava-se o caráter colonial do Brasil, ocultava-se a violência das relações sociais, esquecia-se do restante da América do Sul e da África. O método de ensino era o da memorização mecânica mediante coerção. O aluno era um depósito onde se emplilhavam os conceitos. O conhecimento era dado como pronto e acabado, sem espaço para discussão ou crítica. O historiador e o professor de história eram vistos como elementos imparciais e neutros, meros coletores-transmissores das verdades históricas presentes nas fontes documentais. A história era vista como uma narrativa lógica, uma progressão cronológica uniforme, com ênfase na continuidade, donde se podiam extrair “leis científicas” que se prestavam a explicações gerais sobre qualquer povo em qualquer tempo. Esse paradigma tinha ainda como característica a construção de mitos e a exaltação dos grandes personagens-heróis, responsáveis isolados pelas glórias do passado, e a colocação da elite e do Estado como os agentes históricos por excelência, omitindo-se o papel do restante da população na construção das trajetórias sociais.
Somente nos anos 1920 chegaria um sopro de renovação, a bordo das teorias da Escola Nova. A maior crítica feita ao ensino tradicional de história incidia sobre o caráter passivo do estudante, confinado ao papel de mero espectador no processo. Passou-se a pregar a necessidade de um ensino que promovesse a crítica, o raciocínio lógico, a reflexão. Criticou-se também a ênfase no nacionalismo militarista e chauvinista, crítica advinda da observação das consequências desse tipo de mentalidade na Europa.
A criação dos núcleos universitários formadores de profissionais docentes, na década seguinte, transformou ainda mais profundamente o ensino de história. Várias matrizes teóricas tomaram parte na composição do curso de História nessas instituições: Annales, tradicionalismo do IHGSP, interdisciplinaridade de corrente norte-americana. Nas décadas seguintes, principalmente a partir de 1950, as novas gerações de professores formados nessas academias promoveram transformações grandiosas no ensino de história. A disciplina se cientifizou, tornando-se instrumento de compreensão da sociedade.
Um novo revés, porém, se avizinhava: o golpe militar de 1964. No ambiente acadêmico, ainda que marcado por perseguições, prisões e vigilância, o estudo da história se enriqueceu com a adoção de novas abordagens, metodologias e com a ampliação do conceito de fonte. Nas escolas, no entanto, o empobrecimento foi brutal: na ânsia de excluir do currículo conhecimentos potencialmente danosos ao regime, os técnicos a serviço dos militares impuseram mudanças que mutilaram quase todos os campos de saber. A história, disciplina tradicionalmente instigadora do debate, da crítica e da reflexão, recebeu cortes colossais, chegando a desaparecer do currículo em alguns dos anos da escolaridade, ou sendo abastardada em conjunto com outras disciplinas sob nomes como Organização Social e Política do Brasil (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC). Essas “disciplinas” eram pastiches ideologicamente construídos com objetivo explícito de exaltar o regime ditatorial e enaltecer os grandes vultos do passado, quase todos, por coincidência, militares. Era a volta da velha visão positivista. Colaborou para esse triste cenário a alteração feita nos cursos de formação de docentes, que sofreram alterações importantes, suprimindo-se a pesquisa de seus currículos. Isso contribuiu para a formação de técnicos meramente reprodutores incapazes de construir conhecimentos.
A criação dos núcleos universitários formadores de profissionais docentes, na década seguinte, transformou ainda mais profundamente o ensino de história. Várias matrizes teóricas tomaram parte na composição do curso de História nessas instituições: Annales, tradicionalismo do IHGSP, interdisciplinaridade de corrente norte-americana. Nas décadas seguintes, principalmente a partir de 1950, as novas gerações de professores formados nessas academias promoveram transformações grandiosas no ensino de história. A disciplina se cientifizou, tornando-se instrumento de compreensão da sociedade.
Um novo revés, porém, se avizinhava: o golpe militar de 1964. No ambiente acadêmico, ainda que marcado por perseguições, prisões e vigilância, o estudo da história se enriqueceu com a adoção de novas abordagens, metodologias e com a ampliação do conceito de fonte. Nas escolas, no entanto, o empobrecimento foi brutal: na ânsia de excluir do currículo conhecimentos potencialmente danosos ao regime, os técnicos a serviço dos militares impuseram mudanças que mutilaram quase todos os campos de saber. A história, disciplina tradicionalmente instigadora do debate, da crítica e da reflexão, recebeu cortes colossais, chegando a desaparecer do currículo em alguns dos anos da escolaridade, ou sendo abastardada em conjunto com outras disciplinas sob nomes como Organização Social e Política do Brasil (OSPB) e Educação Moral e Cívica (EMC). Essas “disciplinas” eram pastiches ideologicamente construídos com objetivo explícito de exaltar o regime ditatorial e enaltecer os grandes vultos do passado, quase todos, por coincidência, militares. Era a volta da velha visão positivista. Colaborou para esse triste cenário a alteração feita nos cursos de formação de docentes, que sofreram alterações importantes, suprimindo-se a pesquisa de seus currículos. Isso contribuiu para a formação de técnicos meramente reprodutores incapazes de construir conhecimentos.
O processo de "redemocratização" levou ao poder grupos ligados à onda neoliberal, emanada da Inglaterra de Margareth Tatcher e dos EUA de Ronald Reagan. O poder público retraiu-se, buscando o estado mínimo. Na esfera da educação, passou-se a priorizar o atingimento de metas impostas pelos organismos credores internacionais (leia-se FMI e congêneres). Os processos de ensino e aprendizagem, naturalmente avessos a tais medições, foram mutilados. Concomitantemente, e também com a finalidade de alcançar boas cotações nas listas mundiais, promoveu-se a "universalização" do ensino. Grandes parcelas da população, antes excluídas do sistema formal de educação, ingressaram nas escolas. É importante que se lembre aqui que universalização do acesso não implica automaticamente em democratização do ensino, como mostrou Pablo Gentili em artigo sobre o assunto. A qualidade inferior do ensino oferecida às pessoas mais pobres garante a permanência da segregação escolar, uma vez que somente as classes mais ricas poderão assegurar escolas de excelência para seus filhos, auferindo-lhes vantagens na vida adulta.
A história ensinada nas escolas hoje carrega um pouco de cada uma dessas fases históricas, agrega métodos oriundos das mais diversas correntes de pensamento pedagógico. De acordo com Elza Nadai, o ensino de história atualmente se desenvolve amparado por algumas diretrizes. Em primeiro lugar, superou-se a visão de uma história universal, uniforme e regular, aceitando-se o paradigma do “espelho estilhaçado”. Não se hierarquiza mais os conteúdos, provocando com isso o fim da hegemonia das explicações economicistas ou focadas na história política. O método de produção da História, o “como fazer”, foi incorporado ao conteúdo da disciplina. Explicitar a forma como a história é escrita proporciona a capacidade de “pensar historicamente” e confere emancipação aos indivíduos, que deixam de estar filiados, muitas vezes inconscientemente, a determinado prisma interpretativo. As antigas separações entre ensino e pesquisa, entre professores e alunos e entre escola e meio social estão sendo superadas. Por fim, amplia-se a noção de fontes, o que permite a inclusão de outras “vozes” na construção da história e evidencia o caráter de discurso da produção histórica.
Estamos todos tentando imprimir às aulas de história essas novas ideias, abandonando as cansativas aulas expositivas, investindo na análise de fontes, na identificação de discursos e, quando possível, na produção de história com nossas próprias mãos. O ambiente escolar, no entanto, ainda permanece o mesmo, a mesma configuração antiquada que fazia sentido quando se desenvolviam aqueles modelos arcaicos descritos neste texto. Essa reformulação ainda se faz esperar, e é só com ela, a remodelação do ambiente escolar e a construção de um novo conceito de escola, que poderemos atingir plenamente todos os objetivos da moderna aula de história. Enfileirados, sentados em carteiras uniformemente dispostas, amontoados aos magotes nas salas de aula, vistos como uma multidão homogênea e indistinta, numerados, nossos alunos não terão a chance de ver essa nova história emergir.
Estamos todos tentando imprimir às aulas de história essas novas ideias, abandonando as cansativas aulas expositivas, investindo na análise de fontes, na identificação de discursos e, quando possível, na produção de história com nossas próprias mãos. O ambiente escolar, no entanto, ainda permanece o mesmo, a mesma configuração antiquada que fazia sentido quando se desenvolviam aqueles modelos arcaicos descritos neste texto. Essa reformulação ainda se faz esperar, e é só com ela, a remodelação do ambiente escolar e a construção de um novo conceito de escola, que poderemos atingir plenamente todos os objetivos da moderna aula de história. Enfileirados, sentados em carteiras uniformemente dispostas, amontoados aos magotes nas salas de aula, vistos como uma multidão homogênea e indistinta, numerados, nossos alunos não terão a chance de ver essa nova história emergir.
Bibliografia:
ALENCAR, Chico. Educação no Brasil: um breve olhar sobre o nosso lugar. in: Educar na Esperança em Tempos de Desencanto. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004.
GENTILI, Pablo. A Exclusão e a Escola: o Apartheid Educacional como Política de Ocultação. in: Educar na Esperança em Tempos de Desencanto. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.
NADAI, Elza. O Ensino de História no Brasil: trajetória e perspectivas. in: Memória, História, Historiografia - Dossiê Ensino de História. ANPUH. São Paulo: ANPUH/Marco Zero, 1992/93.